Ensaio sobre a Guerra – parte 4
- Roger

- 3 de jun. de 2025
- 4 min de leitura
Atualizado: 9 de jun. de 2025
“Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo”
(Ludwig Wittgenstein)
A Guerra nas Palavras: Como o Conflito Está Entranhado na Linguagem Cotidiana
A guerra, a despeito de ser um fenômeno extremo, violento e predominantemente devastador, não se restringe aos campos de batalha ou aos livros de história. Ela se infiltra de forma sorrateira na cultura, nos hábitos e, sobretudo, na linguagem.
No cotidiano das pessoas comuns, mesmo distantes de qualquer conflito armado, é possível perceber como os vocábulos e imagens da guerra se tornaram parte do modo de falar, pensar e agir. No Brasil, essa presença é particularmente evidente — e muitas vezes naturalizada — por meio de expressões idiomáticas, metáforas e modos de se comunicar que carregam o peso simbólico da luta e da violência.
Ao observarmos com uma lupa, podemos constatar que grande parte das expressões populares está impregnada por uma lógica combativa. Diz-se, por exemplo, que alguém “está na linha de frente” quando assume responsabilidades importantes, ou que é preciso “atacar um problema de frente” ao lidar com uma dificuldade.
No ambiente profissional, fala-se em “estratégia de ataque”, “defesa de posição”, “guerra de preços”, “sala de guerra”, ou até mesmo em “matar um leão por dia” para se referir à rotina árdua de trabalho. São modos de dizer que transferem o imaginário do conflito armado para a vida civil, como se os desafios do cotidiano exigissem a mesma prontidão, resistência e agressividade que um campo de batalha.
No Direito, um dos seus princípios mais importantes possui uma nomenclatura bélica na sua essência: a “paridade de armas”, que nada mais é do que o princípio da isonomia, onde as partes em litígio possuem o direito de lançar mão das mesmas ferramentas e sujeitos igualmente às mesmas regras.
O emprego de um vocabulário marcadamente bélico pode intensificar algo que estamos presenciando há alguns anos: a polarização. Esse tipo de linguagem pode reduzir de forma simplista questões complexas, fazendo com que aspectos multifacetados da sociedade sejam reduzidos a uma assimetria de "vencedores" e "perdedores", de “nós” versus “eles”, na prevalência da lógica do confronto.
A mentalidade de confronto pode se enraizar e se recrudescer, influenciando desde decisões políticas até a forma como indivíduos se relacionam no cotidiano, muitas vezes priorizando a defesa de ideias a qualquer custo, em detrimento de soluções mais colaborativas.
Essa “militarização” da linguagem não apenas reforça estereótipos e divisões, mas também pode justificar medidas autoritárias, pois em uma sociedade que constantemente se vê em "modo de guerra", atitudes mais agressivas passam a ser vistas como necessárias, inevitáveis e (pasmem) justificáveis.
Entretanto, essa presença da guerra na linguagem não é acidental. A linguagem é um espelho da cultura e da história de um povo. No Brasil, país de passado (e talvez presente) colonial, marcado por lutas de conquista, repressão e resistência, os vocábulos de guerra sobreviveram e se adaptaram às novas formas de enfrentamento.
Nas periferias urbanas, por exemplo, é comum ouvir que a polícia está “descendo para o front”, ou que “rolou uma operação de guerra” em determinada comunidade. Termos como “tiroteio”, “zona de conflito”, “invasão” e “refém” circulam com frequência nos noticiários, naturalizando a ideia de que a violência faz parte da vida cotidiana, como se fosse um estado normal de existência.
Além disso, a guerra penetra na linguagem emocional e relacional. Diz-se que alguém “travou uma batalha interior”, ou que se está “lutando contra um vício”, ou ainda que “perdeu a guerra” contra uma doença. Esses usos reforçam a ideia de que a vida é um constante embate, onde há inimigos — sejam eles externos ou internos — a serem vencidos.
A metáfora bélica se tornou uma lente através da qual se compreendem os desafios, os conflitos interpessoais e até as experiências de ordem subjetiva. Essa internalização da guerra na linguagem contribui, não raro, para a construção de uma mentalidade hostil, competitiva e polarizada.
Quando cada situação é vista como uma batalha,
o outro facilmente se transforma em adversário.
A política, consequentemente, se torna um campo de guerra entre “nós” e “eles”, o debate vira um “duelo de ideias” e o diálogo se converte em trincheira.
Em um país como o Brasil, onde as desigualdades sociais são profundas e as tensões históricas permanecem vivas, essa linguagem bélica pode reforçar divisões, alimentar o medo e justificar a violência.
Essas reflexões nos levam a enxergar a linguagem não como um mero veículo de comunicação, mas como uma ferramenta poderosa que molda realidades e pode direcionar comportamentos.
No entanto, reconhecer essa presença da guerra na linguagem é também o primeiro passo para desarmá-la. Se há poder nas palavras para incitar e para ferir, há poder também nas palavras para curar e promover a paz.
Cultivar uma linguagem mais cuidadosa, menos combativa, mais empática e colaborativa, é um gesto simbólico mas potente de resistência à lógica da guerra que se imiscuiu em nossa forma de pensar e falar.
O desafio, e o convite ao mesmo tempo, portanto, não é de apenas abandonar os vocábulos bélicos, mas repensar o próprio modo como nos relacionamos com os conflitos.
Afinal, a guerra não está apenas nas armas ou nos uniformes; ela está também, e talvez principalmente, na forma como nomeamos o mundo.
E mudar as palavras pode ser, talvez, o primeiro passo para mudar as práticas.
Música do dia: “Viola Enluarada”, de Marcos Valle e Milton Nascimento.


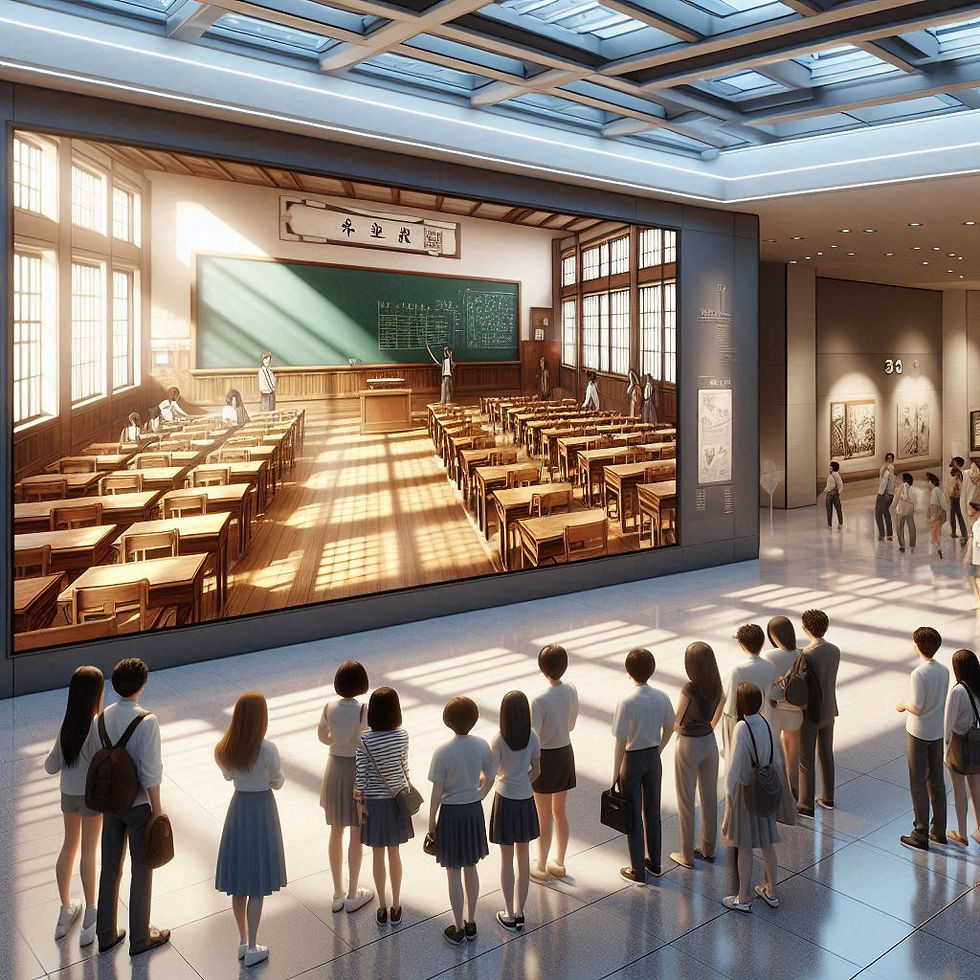

Comentários